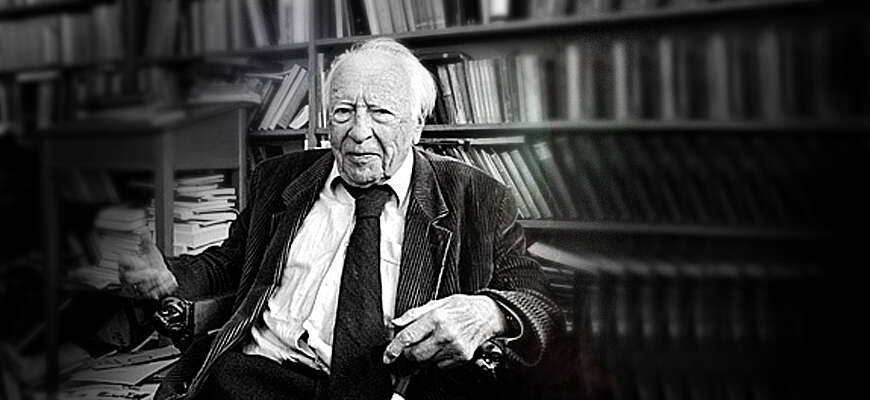
Há uma necessária “voz” que se molda por princípios de natureza ontológica e que faz com que nós, os seres humanos, sejamos entes privilegiados. Esse ser-aí, heideggeriano, coloca-nos perante um mundo que se nos apresenta radical, originário, e que nos revela a toda a hora a evidência da própria existência. Assim, é grande a nossa necessidade de interpretação, de tentar compreender o que nos rodeia, nós próprios, o outro, o semelhante. Esta relação dialógica é, antes de tudo, uma relação que se estabelece em nós num nível de universalidade que, como define Gadamer em Verdade e Método, “(…) ultrapassando nosso querer e fazer, nos sobrevém, ou nos acontece” (Gadamer, 1999: 14). Estamos, talvez, perante o acto essencial do pensamento humano, espaço onde a linguagem atua como forma primária de vida humana, construindo os valores culturais e dando corpo a uma humanidade assente num profundo acordo comum. ¶
Este acordo prévio e originário sustenta a crença, resultado de uma convicção que precede toda a possibilidade de verificação objetiva. Surgirá ela, deste modo, como um género de doxa, capaz de agir como uma metafísica insustentável? Tal seria verdade se o ser fosse esquecido. A hermenêutica surge como um processo contínuo de questionamento, numa tentativa de compreensão do que aparece à nossa consciência, mas desta vez acentuando-se a dimensão linguística do logos. A linguagem e a História relembrarão o ser, não o evitando, mas colocando-o no centro das questões (Magalhães, 2002). ¶
É na intuição radical, orgânica, que o mundo se torna expressivo, valendo-se de uma existência sensitivo-espiritual que rejeita o caráter dominantemente metodológico da interpretação histórica proposta por Dilthey, rejeitando Gadamer tal critério cartesiano de verdade que é “(…) o preconceito contra o preconceito” (Magalhães, 2002: 45). Estão abertas as portas para uma hermenêutica de cariz filosófico: “[…] a relação humana como o nosso mundo é básica e simplesmente linguística e, portanto, compreensível. A hermenêutica é um meio universal do ser da filosofia e não apenas uma base metodológica para as disciplinas hermenêuticas “ (Gadamer cit.por Magalhães, 2002: 45). ¶
A compreensão não é, nem nunca poderá ser, para Gadamer, um comportamento subjetivo perante um dado objeto. Ela pertence à história efeitual. Compreender não é uma instância científica, mas algo profundamente vinculado à experiência humana do mundo. Desse modo, o preconceito funciona como a pré-estrutura da compreensão. Para Gadamer, tradição e história são vistas como questões temporais fundamentais, não numa perspetiva objetiva, mas numa relação que molda o caráter de projeto da compreensão (Gadamer, 1999). A história não é, deste modo, uma mera tarefa de decifração. A compreensão surge assim como uma determinação universal e não um mero exercício do sujeito. ¶
São os limites impostos pelo conceito metodológico da ciência que constituem o centro das preocupações hermenêuticas. Para Gadamer, “(…) o fenómeno hermenêutico não é, de forma alguma, um problema de método” (Gadamer, 1999: 31). Esta vitalidade independente da hermenêutica faz dela o “arauto” da verdade, e essa verdade ultrapassa o controlo da metodologia científica. A época das Luzes questionará o preconceito que, para Gadamer, é condição para a compreensão. Não há conceitos sem experiência prévia que os oriente, como não pode haver racionalidade sem preconceitos. A tradição dá-nos o ponto de vista. Ela é transmissão de um modo de ver o mundo que nos condiciona. Hegel chamar-lhe-ia a “substância”. Mas compreender não pode ser apenas o dado adquirido da tradição. Há um saber histórico consciente da sua própria historicidade que evidencia o facto de existir simultaneamente uma proximidade e distância do interpretado em relação ao intérprete. Esta distância temporal é uma condição propícia para a compreensão. Este tempo que medeia passado e presente funda-se na tradição: “a questão hermenêutica é, então, a da distância temporal” (Magalhães, 2002: 46). Poderá esta distância ser compreendida como uma dificuldade na compreensão: o objeto apresenta-se-nos estranho. Mas, para Gadamer, esta distância abre portas a uma verdadeira compreensão, uma vez que o recetor está comprometido pelas expectativas do seu próprio tempo (Magalhães, 2002). ¶
Nasce, à luz das ideias já abordadas, um importante conceito: a fusão de horizontes. Ninguém pode abstrair-se de si próprio, mas existe uma forte capacidade de entrarmos em diálogo. O que acontece quando apreciamos uma obra do passado é que partimos do nosso horizonte. O horizonte da obra não é o nosso horizonte. Gadamer vê estes horizontes não numa perspetiva historicista – onde existe o horizonte do intérprete e o da obra -, mas um único horizonte que resulta da capacidade do intérprete se colocar na situação do outro. Neste sentido, o termo fusão de horizontes é cunhado pela existência de uma alteridade: a do intérprete e a do interpretado. Ao contrário do que pretendia a Escola Histórica, Gadamer rejeita o despojamento, por parte do intérprete, das suas próprias conceções e juízos. Assim, reformula-se o círculo hermenêutico: “os efeitos da História fazem parte integrante do trabalho de interpretação e o que importa é a tomada de consciência das condições em que se realiza essa interpretação” (Magalhães, 2002: 47). Ao transportar-se para horizontes históricos, a consciência histórica não se transfere para territórios heteróclitos, que nada têm a ver connosco, mas, pelo contrário, procuram a partir de dentro acolher a profundidade histórica da nossa autoconsciência. Não existe anomia, mas um único horizonte que abarca tudo que a consciência histórica contém em si. Para sermos capazes de nos deslocarmos a uma determinada situação, necessitamos de possuir o nosso próprio horizonte (Gadamer, 1999). ¶
A Modernidade abre espaço para uma alienação de caráter estético. Há uma tendência para se avaliar os objetos a partir de critérios subjetivos, segundo a sensibilidade do observador. Este facto “(…) é consequência da subjectivação geral do pensamento efectuada a partir de Descartes, tendência a fundamentar todo o conhecimento numa autocerteza subjectiva” (Palmer, 1969: 171). Deste modo, o esvaziamento da consciência do fruidor da obra de arte goza da imediatez de uma forma puramente sensível. Trata-se tão somente de uma resposta à forma, um momento atemporal. Estamos perante a ausência do conhecimento da fruição da obra de arte. Segundo Gadamer, a arte tem que ser avaliada segundo os seus próprios critérios. A obra revela-se e revela o seu autor. A obra de arte interpela-nos a ver mais além, a “ouvir a sua voz”. Só seremos conscientes da alteridade se nos deslocarmos, se fizermos a abstração de nós próprios. Alienar é não deixar a obra falar por si. E quanto mais a observamos, mais a nossa compreensão se enriquece: “a experiência do encontro com uma obra de arte abre-nos um mundo” (Palmer, 1069:172). A obra de arte não deve ser vista como um objeto que dissecamos para a analisarmos formalmente. Deve ser vista, pelo contrário, como uma questão que nos é colocada (Palmer, 1969). ¶
Importará finalizar esta breve reflexão com o que distingue a compreensão do conhecimento. A oposição entre tradição e razão é vista por Gadamer não tanto como uma oposição incondicional e irredutível, mas antes como a necessidade de combater uma conceção abstratamente teórica de razão (Magalhães, 2002). A reabilitação que Gadamer faz de tradição e autoridade pretende mostrar que preconceito não é sinónimo de juízo falso, mas antes a possibilidade e este ser entendido como algo positivo ou negativo. Daí a importância de um círculo hermenêutico que se alimenta de conceitos prévios que, paulatinamente, vão sendo substituídos por outros conceitos mais adequados. Há um movimento de reprojeção que se alimenta da crença, entendida como uma estrutura de antecipação, e que deverá ser objeto de confirmação. Trata-se da compreensão do todo e das suas partes. Partimos para este processo interpretativo alicerçados pela autoridade, pelo que inspira confiança, por uma tradição que não podemos recusar. Um longo argumento que torna o mundo um lugar expressivo que, pela história, se dá consciente. Um mundo constituído linguisticamente, numa espécie de medida, que se reforça pela sua natureza radical, dificilmente antecipada. Assim, a obra de arte surge como um evento que nos interroga e nos apela para uma existência humana profundamente dialogal. A linguagem é o modo de revelação de um mundo vivido. Também a arte, como linguagem, cria a possibilidade de o homem ter um mundo, de conceber a própria compreensão de um modo tão alargado quanto possível: “a compreensão, diz Gadamer, é sempre um evento histórico, dialéctico [e] linguístico” (Palmer, 1969: 216).
BIBLIOGRAFIA
Gadamer, H-G. (1999). Verdade e Método. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. (3ªed.). Petrópolis: Editora Vozes.
Magalhães, R. (2002). Introdução à Hermenêutica. Coimbra: Angelus Novus.
Palmer, R. (1969). Hermenêutica. Lisboa: Edições 70.